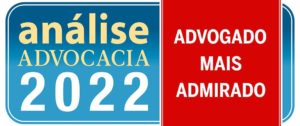CONAMA VOLTARÁ A CONTAR COM AMPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR
O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) foi instituído pela Lei 6.938/81 e estruturado para a proteção do meio ambiente com a participação da sociedade civil em decisões ligadas ao setor. Tendo esse objetivo em vista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um despacho, publicado no Diário Oficial da União, que visa uma nova regulamentação para o Conama com prioridade em garantir a ampla participação da sociedade na definição das políticas públicas ambientais do País.
De acordo com o texto publicado no DOU, caberá ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e à ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a adoção de providências “para eliminar os retrocessos realizados na estrutura e no funcionamento do Conama”. O prazo é de 45 dias.